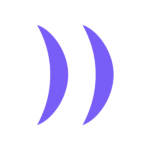O livro A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, narra um mundo distópico em que expoentes da força produtiva da sociedade — empresários, cientistas, engenheiros — decidem desaparecer.
Exaustos diante de regras incongruentes, tributos sendo majorados e exigências ilógicas — todas elas gestadas nas elites burocráticas, nos setores políticos dominantes e nos comissários designados por ocasião — esses indivíduos entram em espécie de “greve produtiva” e se isolam em um vale escondido.
Enquanto isso, o restante do mundo — desorganizado e cada vez mais parasitário — colapsa sob seu próprio peso. A pergunta que ecoa ao longo da obra — Quem é John Galt? — torna-se emblema do cansaço de quem sustenta uma engrenagem econômica cada vez mais disfuncional.
Mas como isso se conecta ao nosso setor elétrico? Antes de tudo, é preciso reconhecer um ponto inquestionável no sistema: o planejamento físico da infraestrutura de transmissão e distribuição.
Trata-se de uma arquitetura historicamente centralizada, concebida sob a lógica do chamado “monopólio natural” — típico de empreendimentos em que o custo de replicação torna a concorrência antieconômica.
Nesse contexto, decisões sobre expansão, reforço e operação da rede são coordenadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), responsável por garantir a integridade e a segurança de toda a malha.
Ainda que sujeito a críticas, esse modelo possui coerência técnica: não faria sentido permitir que diversos agentes disputassem a construção de linhas paralelas numa mesma rota. O planejamento centralizado, aqui, cumpre um papel legítimo.
O problema começa quando essa racionalidade — própria da engenharia — é transposta de modo automático para o elemento econômico.
Ao invés de vez se permitir que a alocação de recursos se dê pela livre interação entre oferta e demanda, o setor elétrico brasileiro opera, em boa medida, com preços modelados, calculados por algoritmos que simulam o Custo Marginal de Operação (CMO), resultando no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD).
Embora esse paradigma tenha evoluído ao longo dos anos de existência da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) — incorporando granularidade temporal (traços de preferência intertemporal) e até sinalizações locacionais por submercado —, ele ainda se afasta da concepção econômica mais purista, como aquela legada por Carl Menger e seus sucessores intelectuais.
Em vez de um mercado fidedigno, onde a escassez e a valoração subjetiva se encontram em tempo real, temos algo mais próximo de uma feira onde o preço do único bem — a energia — é afixado, de antemão, pelo prefeito da cidade nas placas das barracas (resultado de um algoritmo que ele rodou).
Nesse ambiente de incentivos truncados, surgem desvirtuamentos profundos.
Investimentos em geração descentralizada, autoprodução, armazenamento e projetos renováveis de maior escala passam a ser avaliados não apenas por seus fundamentos técnico-financeiros, mas mais por sua compatibilidade com um conjunto de regras que ainda ecoam a lógica do planejamento central — o que inevitavelmente distorce sinais.
É dizer o seguinte absurdo: agentes que injetam potência firme no sistema podem, ainda assim, ter suas receitas glosadas por restrições de curtailment — muitas vezes, sem sequer serem compensados financeiramente por isso.
As evidências são abundantes e claras. Podemos exemplificar com um acontecimento recente; a derrubada dos vetos presidenciais ao projeto de lei das eólicas offshore. Os vetos contribuíam para aliviar o encarecimento da tarifa de energia.
Com sua rejeição, foram restabelecidos benefícios setoriais e encargos disfarçados — agora novamente repassados à conta de luz. O episódio revela um padrão recorrente: a captura de políticas públicas por interesses organizados, mesmo em detrimento da racionalidade tarifária e da modicidade que se promete proteger.
Enquanto o consumidor será chamado a arcar com os custos invisíveis dessa conta politicamente construída, os efeitos se alastram de forma silenciosa por toda a cadeia: da geração ao uso das redes, passando pelas cadeias de suprimento e alcançando qualquer elo que se examine com atenção.
Como bem diagnosticou Thomas Sowell, os “ungidos” — elites dirigentes que se veem moralmente superiores — raramente admitem seus erros. Quando uma política fracassa, mudam-se os critérios de avaliação ou redefine-se o que se entende por sucesso. Qualquer coisa, menos reconhecer que o modelo está corroído.
“Para os ungidos, anunciar direitos para segmentos particulares da população é escolher outros como suas mascotes — e buscar o poder do Estado para ratificar e impor essas escolhas arbitrárias, tudo isso sem a necessidade de apresentar argumentos específicos. Não importa o que aconteça, a visão dos ungidos sempre tem sucesso, se não pelos critérios originais, então por critérios elaborados posteriormente — e se não por critérios empíricos, então por critérios suficientemente subjetivos para escapar até mesmo da possibilidade de refutação.”
— Thomas Sowell, Os Ungidos
Este é o John Galt do setor elétrico brasileiro: aquele que, mesmo diante de incentivos invertidos, ainda não deixou o sistema — mas já começa a se perguntar até quando permanecerá nele.
Este artigo expressa exclusivamente a posição do autor e não necessariamente da instituição para a qual trabalha ou está vinculado.
Daniel Steffens é sócio da área de Energia e Infraestrutura do Urbano Vitalino Advogados.