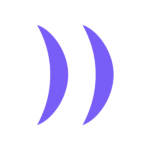O barril do petróleo tipo WTI valia US$ 106 em junho de 2014. Em novembro, a queda abrupta se anunciava com o mesmo barril sendo cotado a US$ 75. Sempre oscilando muito, o preço caiu até fevereiro de 2016, quando chegou a US$ 26. Depois, houve uma nítida recuperação e, em junho de 2016, o valor quase dobrou: US$ 51. A alta prosseguiu durante o ano passado e, em janeiro de 2018, o barril do óleo norte-americano foi vendido a US$ 64. Longe de ser novidade, a volatilidade reflete a dificuldade do oligopólio em regular o preço e, resultado do acordo entre a Arábia Saudita e a Rússia, a recente alta pode ter fôlego curto.
Impressiona a fraca resposta do comprador, que pode ser creditada a diversos fatores: lento repasse ao preço final, maior cobiça fiscal, endividamento e desemprego na Europa (à exceção da Alemanha) e em países de capitalismo tardio (Brasil, México, Argentina, Rússia, Turquia, Egito, Quênia e África do Sul), além da evolução nos hábitos de consumo e do ganho no rendimento energético. No quarto trimestre de 2014, em média, 94 milhões de barris por dia (bpd) foram consumidos no mundo (segundo AIE/OCDE). Dois anos depois, no quarto trimestre de 2016, com o preço em torno de US$ 45, o consumo atingiu 97 milhões bpd – apenas 3% de aumento. Em 2018, a projeção aponta 99 milhões bpd, 2% adicionais. Muito pouco quase quatro anos do colapso do preço, evidência de que, qualquer que seja a razão, a sensibilidade da demanda por óleo mudou – e é bem menor – no século XXI.
O que não mudou foi a instabilidade dos oligopólios, particularmente no petróleo, no qual a dinâmica cíclica é inerente à atividade. Ao longo de 2017, a contenção por parte dos dois maiores produtores foi eclipsada pela expansão nos Estados Unidos, em tradicionais produtores como o Iraque e Irã, em novos exportadores, como o Brasil e, em breve, a Guiana. Em função do óleo não convencional, a rapidez com que a oferta estadunidense responde às variações de preço merece nota. Trata-se de um novo determinante na organização industrial.
Nos EEUU, apenas óleo bruto (sem contar condensado de gás natural), em média, foram extraídos 9,3 milhões de bpd, no quarto trimestre de 2014 e de 2015, de acordo com a US Energy Information Administration. Iniciada em meados da década passada, interrompeu-se a espetacular ascensão de um tipo de petróleo longamente conhecido, até então desprezado e que se encontra numa rocha denominada folhelho. Em novembro de 2016, com o WTI cotado a 45 US$/b, a onda de concordatas cobrou a alavancagem que financiou a expansão anterior e, assim, a retração da atividade gerou um milhão de desempregados e o volume extraído no país caiu para 8,8 milhões de bpd.
A sensibilidade à queda parece menor que à alta. Apesar das falências, os produtores independentes resistiram em cessar suas atividades. Três a quatro anos bastaram para reduzir custos e readequá-los ao novo patamar de preço. Pelo último dado disponível (US IEA), em novembro de 2017, dez milhões de bpd foram extraídos em reação quase automática à recente alta. Acima de 50 US$/b, assim como a lavra do folhelho norte-americano, a lavra do óleo ultraprofundo no Oeste da África, no Golfo do México e no pré-sal brasileiro, das acumulações marginais do Meio Oeste e a recuperação de resevas no Mar do Norte, são todas viáveis.
Ainda nos EEUU, a agilidade das petroleiras se contrapõe à inércia da demanda. O que novamente impressiona ao se levar em conta a história do maior mercado, até hoje, responsável por um quinto do consumo mundial de derivados. Mais de três anos depois da inflexão, as compras pouco se alteraram numa falta de apetite recorrente após o segundo “choque”. A persistência confirma uma nova condição de base no mercado norte-americano. Ainda segundo a US EIA, entre o quarto trimestre de 2014 e o terceiro trimestre de 2017, o consumo de derivados cresceu de 19,52 barris de óleo equivalente por dia (boe/d) para 19,92. São 400 mil boe/d adicionais, ou apenas 2% de incremento, a despeito do tempo transcorrido e preço muito menor. No Japão, na Coréia e Europa, o mesmo aconteceu.
Prevista para 2018 e 2019, a recuperação econômica se beneficia dos termos de troca nos quais o preço do óleo caiu pela metade, num mundo onde a riqueza se desloca para o Oriente. São modificações profundas em andamento na ordem internacional e tão irreversíveis quanto os impactos da mudança climática. Nas ciências econômicas, o longo prazo corresponde a trinta anos, tempo suficiente para que bondes e automóveis substituíssem cavalos e carroças nas metrópoles do início do século XX, antes disso, para que caldeiras a carvão mineral fossem substituídas pelas abastecidas por óleo combustível, ou para que o querosene tomasse o lugar do óleo de baleia nas lamparinas e que estas fossem substituídas, em seguida, pelas lâmpadas elétricas a filamento. Menos de vinte anos se passaram para viabilizar a geração eletronuclear e, em menos de dez, os “smartfones” aposentaram os telefones portáveis convencionais. O progresso científico acelerou a difusão das inovações.
No presente, o menor apetite da demanda, por um lado, e a agilidade daqueles sem acesso às reservas do Golfo Pérsico, por outro, correspondem a duas mudanças de peso. Movimentos distintos e simultâneos, eles tencionam um equilíbrio permanentemente precário. A novidade é que, agora, compõem-se como novas condições de base, no que diz respeito aos dois lados da equação: o consumo e a produção. Nenhuma das duas favorável ao capital petrolífero. Segunda maior fonte primária de energia, em pleno século XXI, a sobrevivência do carvão se faz a US$ 15/b energeticamente equivalente. (Nem precisa de Donald Trump para tanto).
Somem-se a concentração entre os produtores, a competição com novas fontes (eólica, fotovoltaica, marémotriz e geotérmica), a mudança climática, a emissão de particulados nas metrópoles, a revolução digital em curso…, difícil imaginar ambiente tão pouco propício à reprodução do capital petrolífero. Azar o dele, por uma vez na História. Excluído o cobrador de imposto, nos últimos três anos, para os compradores e principalmente para as famílias, o ganho já foi significativo e deve perdurar; isso, enquanto a competição reduzir os preços, segundo velho dogma da ciência econômica. Muito provavelmente, sinal dos novos tempos, o ganho não foi, nem será gasto em mais combustível. Melhor para todos e também para nosso entorno.
1 Dutra, Luís Eduardo Duque (2017). Evolução recente do mercado internacional de petróleo – um caso clássico da instabilidade dos oligopólios. In Boletim de Economia e Política Internacional, no 23, mai/agosto. Brasília: IPEA, pp. 6-11.
*Luís Eduardo Duque Dutra é Doutor em Ciências Econômicas pela Universidade de Paris XIII e Professor Adjunto da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro