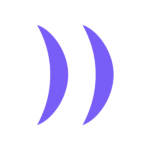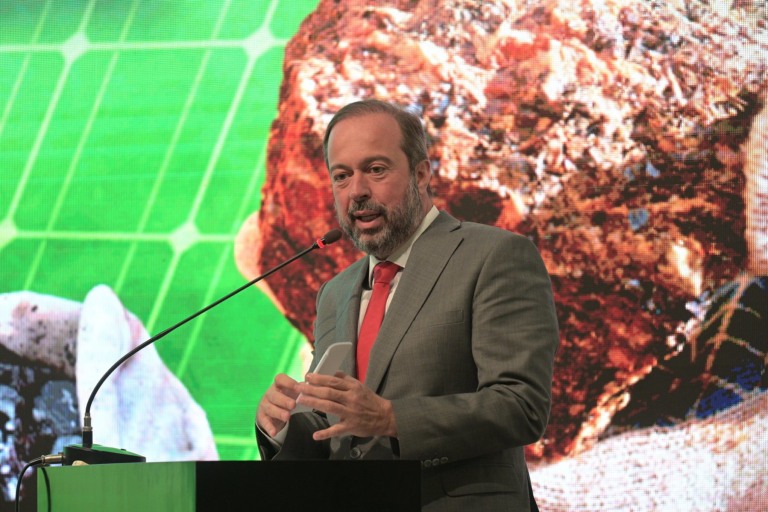Durante anos, ouvir falar em “colocar preço na natureza” era quase uma heresia. ONGs, ambientalistas e até líderes políticos viam nisso uma ofensa, um desamor às futuras gerações e uma ode capitalista.
A floresta do futuro não podia ser precificada, e sim, intocada. O ativo intangível de ontem, no entanto, entrou no balanço patrimonial de hoje. O risco ideológico virou contábil. A natureza deixou de ser apenas paisagem e passou a ter preço.
O Fundo Florestas Tropicais para Sempre, um dos primeiros legados da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), é apresentado como um modelo inédito de proteção — mas há muito tempo conhecemos essa lógica.
Antes de capital, hoje ambiental. Presenciamos algo próximo de um IPO ambiental; abrimos o capital no mercado simbólico da sustentabilidade: a floresta, enfim, virou ativo financeiro.
Inauguramos a precificação. Os primeiros aportes já sinalizaram o valor inicial — Noruega e Reino Unido compraram a ideia, literalmente. Outros preferem observar o desempenho antes de entrar, como investidores que aguardam o preço se estabilizar.
O que o mercado financeiro chama de fase de precificação, estamos aceitando chamar de transição na agenda ambiental.
O aporte inicial estabeleceu o efeito de ancoragem no preço por hectare, e o dinheiro aventado como doação — ou ajuda internacional — trata-se, na verdade, de um investimento.
A remuneração virá conforme a performance ambiental devidamente mensurada. O lastro será a conservação, e a lógica, a de uma ação: conservou, ação sobe, investidor lucra; não conservou, ação cai, investidor perde.
A floresta entrou no simbolismo dos títulos soberanos e dos créditos de carbono. A inovação abriu espaço para uma nem tão nova assimetria de poder: quem detém o capital dita as métricas; quem detém as florestas presta contas.
O Brasil, ao liderar o fundo, tenta se posicionar como emissor de um novo tipo de ativo — o ativo verde soberano — correndo o risco de transformar a floresta em “conta patrimonial”, o que pode inseri-la na esfera da volatilidade dos mercados financeiros.
A ideia de preservação “para sempre” se torna dependente de fluxos de capital “de curto prazo”, e já provamos para o mundo que, no jogo da conservação ambiental, não temos espaço nem no banco de reservas.
Essa lógica desloca o foco do “preservar por ética” para o “preservar por rentabilidade”, mas a ética parece ter confrontado a moral aqui.
A lógica parece ser a mesma que rege o mercado financeiro: primeiro o IPO ambiental, quando a natureza passa a ter preço; depois os derivativos verdes, que negociam o risco e o valor dessa precificação; e, por fim, o swap verde, que formaliza a troca entre capital e natureza — fluxos financeiros convertidos em fluxos ecológicos.
O funcionamento lembra o de um swap cambial, só que, em vez de trocar moedas, a troca é entre capital financeiro e capital natural. O país que mantém a floresta viva converte estabilidade ecológica em estabilidade monetária. É a lógica dos derivativos aplicada à natureza.
O ativo verde nasce da capacidade de manter o risco sob controle e o que antes era um bem comum, agora tem comportamento de mercado — com preço, prêmio e volatilidade, operando na mesma lógica da confiança, da liquidez e das expectativas. O ativo ambiental vale tanto quanto o mercado acredita que ele continuará de pé.
E se ao invés de floresta fosse resíduo? O resíduo tratado, o crédito de carbono gerado e a resposta a emergências ambientais viram ativos contábeis e de portfólio.
São criados produtos financeiros ambientais — certificáveis, mensuráveis, vendáveis que monetizam serviços ecossistêmicos — que são gerenciados sob o conceito de gestão de ativos ambientais com instrumentos de mercado tipo: créditos de carbono e resíduos; relatórios ESG como ativos reputacionais; contratos de gestão de risco ambiental que funcionam como seguros verdes.
Uma forma de derivativo corporativo verde: o cliente “compra” o direito de neutralizar impactos futuros (riscos ambientais) mediante um contrato.
Casos recentes mostraram como essa lógica, aplicada em escala corporativa, pode se fragilizar diante da própria volatilidade que pretendia conter.
Ou seja, um swap de responsabilidade ambiental: o passivo é trocado por um ativo controlado por quem prestará conta. É a troca de risco ecológico por fluxo financeiro previsível.
Na floresta, o ativo subjacente é a floresta tropical conservada, o risco é o desmatamento e o ganho é o pagamento por hectare preservado.
No resíduo, o ativo subjacente é o resíduo evitado, reciclado ou neutralizado, o risco é a contaminação, emissão ou desastre ambiental, e o ganho é o crédito ambiental certificado e o valor de portfólio ESG.
Ambos operam sob o mesmo princípio da precificação de risco ambiental — algo que antes era difuso e agora é formalizado em contratos, métricas e auditorias, e também são sustentáveis enquanto a sustentabilidade for rentável. Criando uma vulnerabilidade sistêmica.
Por depender de modelos, a confiabilidade da mensuração fica tão política quanto científica. A ideia de converter variáveis ecológicas voláteis em instrumentos de mercado previsíveis cria o que poderíamos chamar de contabilidade do invisível: uma economia construída sobre o que não se destrói.
O desmatamento que não aconteceu, o carbono que não foi emitido, o impacto que não chegou a existir — tudo isso passa a compor uma monetização do “não fazer”.
Guardadas as escalas e questões de soberania, acabamos de vivenciar um pedido de recuperação judicial desse tipo de estrutura aplicada a resíduos. Um modelo robusto, mostrou-se construído em base frágil.
Há, sem dúvida, inteligência na proposta. Mas há também uma espiral descendente irônica: o instrumento criado para reduzir a incerteza climática depende da mesma incerteza financeira que alimenta a incerteza climática.
O fundo pretende proteger a floresta da lógica de destruição, mas o faz adotando a lógica de precificação que nasce dela. E o desempenho ambiental — antes tratado como virtude — se torna variável econômica de risco, preço e confiança.
Colocar preço na natureza não é mais uma heresia. O desamor as futuras gerações deram lugar a um novo tipo de contabilidade que promete ser guardiã do patrimônio global.
Continuamos avaliando políticas pela esperança de que o futuro nos revele surpresas positivas, e insistindo em não aprender com o passado. Evidência? O resíduo — a crença de que o verde era à prova de risco — e o colapso de um modelo que parecia infalível.
Precisamos ser cautelosos com os efeitos colaterais de decisões que pretendem proteger o nosso futuro. Transparência também cairia bem.
Jaques Paes é mestre em gestão organizacional, consultor, especialista em projetos e professor do MBA de ESG e Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).