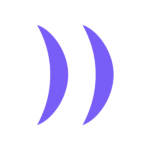Em 29 de março de 2020, no auge do lockdown causado pela Ccovid-19, foi publicada uma foto da cidade de São Paulo com um céu límpido com destaque a uma drástica redução da poluição atmosférica na cidade.
A imagem se tornou um símbolo da relação entre as atividades humanas e a qualidade ambiental, sendo rapidamente incorporada ao discurso dominante sobre mudanças climáticas e aquecimento global, reforçando no imaginário coletivo que menos poluição significa menos aquecimento. Mas não.
Essa equação ignora nuances essenciais que a ciência já demonstra há anos.
Ao assumir essa relação direta entre poluição e temperatura, mergulhamos no raso de uma análise leiga que sustenta um discurso conveniente, capaz de movimentar tanto opiniões quanto economias. E é justamente aí que reside o problema: essa lógica está longe de ser linear.
Na realidade, a redução de certos tipos de poluição pode acelerar o aquecimento global, desafiando o senso comum e encontrando respaldo na literatura científica.
A ciência levanta uma questão incômoda sobre a complexidade das interações atmosféricas — e a maneira como escolhemos lidar com isso define a qualidade do debate climático.
Dados meteorológicos do Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) revelam que, em 29 de março de 2020, São Paulo registrou temperaturas entre 18,7°C e 27,5°C, enquanto no mesmo dia em 2019 as temperaturas oscilaram entre 17,8°C e 25,0°C.
Isoladamente, esses números já desmontam a noção de que a redução dos poluentes resulta automaticamente em uma diminuição da temperatura.
Por isso, outros fatores, como padrões atmosféricos, umidade e circulação global, precisam ser considerados antes de se sustentar uma narrativa unilateral — assim como uma análise em escala global, e não apenas em uma cidade.
É óbvio que continua sendo crucial a preocupação com a qualidade do ar ou com a mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE).
O problema está na insistência em tratar mudanças climáticas como uma equação simplista e manipulável por medidas isoladas, e qualquer tentativa de encaixá-la em uma fórmula básica compromete a compreensão necessária para enfrentar seus desafios.
A redução do consumo de combustíveis fósseis e a desaceleração da produção industrial fizeram com que os níveis de poluentes caíssem rapidamente.
Esse efeito foi comprovado pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), que registrou uma queda de quase 50% na concentração de dióxido de nitrogênio (NO₂), um dos poluentes mais nocivos da atmosfera urbana, em São Paulo, nos primeiros meses de isolamento social.
No entanto, ao reduzir a poluição, especialmente a emissão de aerossóis — originados da queima de combustíveis fósseis, emissões industriais, tráfego de veículos, processos metalúrgicos e construção civil — inadvertidamente permitimos que mais radiação solar atinja a superfície terrestre, o que pode elevar as temperaturas locais e globais.
Isso ocorre porque certos poluentes exercem um efeito de resfriamento ao refletirem parte da luz solar de volta ao espaço e reduzindo a quantidade de calor que chega à superfície terrestre, atuando, assim, como uma espécie de “guarda-sol”.
O Sexto Relatório de Avaliação (AR6 – Mudança do Clima 2021: A Base da Ciência Física), do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), reconhece esse fenômeno e destaca que ele mascara parte do aquecimento causado pelos GEE.
Indo além, em 2020, a Organização Marítima Internacional (IMO) implementou regras mais rígidas para reduzir o teor de enxofre nos combustíveis navais. A intenção era diminuir a poluição por dióxido de enxofre.
Paradoxalmente, isso também reduziu a formação de nuvens de aerossóis marítimos, levando a um aumento da absorção de calor pelos oceanos — ou seja, elevando sua temperatura.
Essa mudança foi confirmada pelo artigo “Evidências robustas da reversão da tendência no forçamento climático efetivo por aerossóis”, publicado na European Geosciences Union (EGU), uma das organizações científicas mais relevantes no campo das ciências da Terra e do clima.
A relação entre poluição, aquecimento global e políticas ambientais é mais complexa do que uma equação reducionista ou uma percepção limitada.
Por óbvio, reduzir a poluição é crucial, mas entender os efeitos colaterais é igualmente essencial. Nesse debate, não cabe uma resposta superficial para perguntas retóricas, e é isso que a ciência tem nos mostrado repetidamente.
No fim do dia, não se trata de defender a poluição como um “mal necessário”, mas de reconhecer que ajustes ambientais precisam considerar todos os efeitos — intencionais e não intencionais — e seus impactos na economia local e global.
Podemos pensar que, embora a redução da poluição possa causar um aquecimento temporário, a longo prazo o resultado pode ser outro.
Por isso, o foco deve estar na transição para energias limpas, em paralelo com o desenvolvimento de novas tecnologias de captura de carbono.
Mas isso nos coloca frente a uma dicotomia: como podemos prever o impacto para as próximas gerações se podemos estar trazendo riscos para o presente?
A resposta a essa pergunta está no conceito clássico de sustentabilidade estabelecido pelo Relatório Brundtland, que define desenvolvimento sustentável como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades.”
Esse conceito é a base para todas as abordagens de sustentabilidade — da Economia Circular, economia e finanças sustentáveis aos princípios ESG e às estratégias de mitigação das mudanças climáticas — garantindo que o progresso atual não ocorra à custa do futuro.
No fim, não há solução — tampouco — uma equação simples. Esse debate desafia nossa compreensão, mas uma coisa é fato — tirem as crianças da sala: a redução da poluição pode, sim, aumentar o aquecimento global.
Jaques Paes é consultor, especialista em gestão e professor do MBA de ESG e Sustentabilidade da FGV