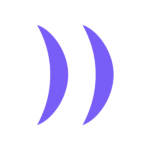Terras raras são, antes de tudo, uma metáfora para a estratégia e a geopolítica. Um espelho elegante das nossas contradições mais nobres.
Um recurso disperso, de difícil extração, com alto potencial para sustentar uma economia, cujas reservas e tecnologia estão sob controle de poucos.
A dependência e a necessidade geram um jogo de xadrez. Xeque-mate em cinco movimentos: criação de um mercado sustentável; expansão econômica; proteção de reservas conhecidas; depósitos economicamente viáveis; e desenvolvimento tecnológico.
A transformação econômica e os desafios socioambientais se intensificam. Mas há uma estratégia muito bem desenhada por quem negocia concessões, estima reservas e valora preços. Essa é a história do petróleo.
Assim como o “óleo de pedra” não era óleo nem vinha da pedra, “terra rara” não é terra nem rara. Por terra entende-se componentes minerais. Raro é apenas uma construção semântica que sugere escassez, embora o material seja abundante na crosta terrestre.
O debate sobre terras raras se pauta na vulnerabilidade das cadeias de valor e em um processo ambientalmente sensível, como foi o petróleo um dia. Estamos vivenciando a criação de um “novo petróleo”.
Enquanto a Organização das Nações Unidas (ONU) traça metas de descarbonização, ignora o elefante na sala: apoia líderes mundiais e metas irreais que desconsideram o custo ambiental da mineração em larga escala.
Tudo isso ocorre em um contexto no qual a transição energética em massa depende de uma nova geopolítica do subsolo — com inventários de reservas, segundo o US Geological Survey (USGS), repletos de premissas e estimativas de viabilidade incerta. Um abismo entre discurso e realidade.
É a grande hipocrisia da nossa era: o sonho de um futuro limpo, erguido, em parte, sobre a indústria da mineração — vilã ou heroína por conveniência — e sobre argumentos frágeis que hoje a justificam, travestidos de propósito.
Sustentar os “fortes” argumentos válidos “até ontem” gera posicionamentos contraditórios e inaugura uma nova relação de poder, que nos receita um remédio com prazo para ficar mais amargo.
A ironia é perfeita. A transição energética, tão fundamental para redução do consumo de combustíveis fósseis, está sendo sustentada por narrativas — por vezes — sem embasamento, e nitidamente controversas.
Uma repetição infindável de “o que deve ser feito”, e uma escassez ensurdecedora de “como fazer”. Nesse jogo de xadrez há dois tabuleiros, temporais em igual forma e conteúdo.
Em um, o petróleo, “controlado” pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que institucionalizou a escassez como força geopolítica.
Em outro, as terras raras, cujo domínio está em movimento, mas, ao menos em teoria, com um único país controlando o jogo: a China. É o comando de uma engrenagem invisível, conferindo-lhe um poder de barganha que a Opep só sonhou em ter.
Narrativas e custos reais da transição energética
A transição energética virou um mantra global. Ela é apresentada como inevitável, inquestionável, virtuosa. Mas a forma como essa transição está sendo construída revela contradições nervosas e políticas instáveis.
A agenda climática assume um papel de bússola civilizatória. Os discursos ganham força normativa e colocam o contraditório fora do debate. Nesse novo moralismo climático, perguntar “como” virou quase um desvio ético.
Para alimentar o sonho verde, estamos terceirizando responsabilidades sociais e morais, celebradas como avanço. Assim como o petróleo era apenas mais um combustível, as terras raras eram apenas elementos de nicho — agora transformadas em uma “vitamina” indispensável. A coerência se ausenta.
Os mesmos que anunciam metas de carbono neutro até 2050 hesitam em adotar critérios robustos de rastreabilidade para suas cadeias de suprimento. A pergunta óbvia, mas desconfortável, é: por quê?
Quando o discurso das metas encontra os limites da realidade, as narrativas ganham força, se sobrepõem à estrutura e transformam fatos em opcionais. A China já entendeu faz tempo. A transição energética é, também, uma transição de poder que carrega silêncios e contradições.
E o que se anuncia é uma nova assimetria: uma nova corrida do ouro travada sob a bandeira verde, guiada por interesses, controle, dependência e influência. Metas de descarbonização, compromissos climáticos e rankings ESG dão lugar a um vazio regulatório quando se trata da exploração de terras raras.
A sustentabilidade se reduz a um imperativo retórico. O “verde”, “limpo”, “justo” e “responsável” passaram a operar no vocabulário como selos — um verniz que foge à realidade e autoriza intenções que substituem ações.
Os termos ganham prestígio, mas perdem precisão. Tornam-se moeda simbólica, úteis para fechar relatórios e abrir mercados — não para abrir a realidade. Há mais eloquência do que estrutura.
A descarbonização virou meta política, e as terras raras, vetores de poder. Dessa configuração emerge o risco de aceitar a transição energética como inevitável, sem discutir suas consequências — e cairmos na armadilha de trocar um velho algoz por um novo.
A cultura do consenso climático, celebrada como sinal de avanço, tende a neutralizar a divergência e a complexidade. Quando todos parecem concordar, questionar vira sinônimo de negar — e não de pensar.
As terras raras não são vilãs, tampouco salvadoras. São o ponto cego de uma transição que se vende como rápida, limpa e conveniente. Nesse enredo, surgem como solução material para uma crise estrutural. Mais um elo de promessas e possibilidades que nos leva, de novo, a tentar resolver um problema com a mesma lógica que o causou.
Mas talvez essa extração simbólica — de conceitos, de discursos, de sentidos — revele algo ainda mais profundo: a dificuldade de imaginar uma transformação que vá além da troca de insumos. A economia da transição tem se estruturado não apenas em novos materiais, mas em velhos pressupostos.
Trocam-se os elementos, preservam-se as engrenagens. Muda-se o conteúdo, mas mantém-se a lógica de escassez, escala, competitividade e urgência. Como se todo futuro precisasse caber dentro da linguagem que o presente já conhece.
Nesse movimento, as terras raras deixam de ser apenas insumos ou metáforas — e se tornam um indício de que o foco pode estar deslocado. Que talvez estejamos diante de uma crise que exige menos substituições e mais rupturas.
Enquanto o petróleo travava guerras a céu aberto, as terras raras silenciam indústrias inteiras, moldando dependências invisíveis. Prosperar nesse novo tabuleiro exige o enfrentamento direto das contradições. Em essência, chamamos de futuro aquilo que ainda repete o passado — só que em outra cor, em nova roupagem, mas a mesma lógica por trás.
Este artigo expressa exclusivamente a posição do autor e não necessariamente da instituição para a qual trabalha ou está vinculado.
Jaques Paes é consultor, especialista em gestão e professor do MBA de ESG e Sustentabilidade da FGV.